A ofensiva militar perpetrada por Israel contra Gaza desde outubro de 2023 reposicionou a “questão palestina” no centro do debate político global. Cerca de 32.000 civis, mais de 1% da população de 2,2 milhões de habitantes do território, foram mortos pelos bombardeios e ofensivas terrestres do exército israelense, com mulheres e crianças constituindo quase dois terços das vítimas. O número de feridos já ultrapassa 74.000. No momento, cerca 1.9 milhões de pessoas, cerca de 85% da população de Gaza, está em situação de deslocamento forçado e refúgio em uma estreita faixa ao redor de Rafah. Esse território é alvo de constantes bombardeios israelenses, sendo o objetivo declarado da próxima fase da ofensiva militar.
A secção Antropologia Urgente consiste em artigos em jeito de ensaio curto sobre temáticas prementes no duplo âmbito de uma antropologia da urgência e de uma antropologia dos afectos, mas igualmente que marquem agendas públicas ou que exploram realidades e fenómenos invisibilizados.
A ofensiva militar perpetrada por Israel contra Gaza desde outubro de 2023 reposicionou a “questão palestina” no centro do debate político global. Cerca de 32.000 civis, mais de 1% da população de 2,2 milhões de habitantes do território, foram mortos pelos bombardeios e ofensivas terrestres do exército israelense, com mulheres e crianças constituindo quase dois terços das vítimas. O número de feridos já ultrapassa 74.000. No momento, cerca 1.9 milhões de pessoas, cerca de 85% da população de Gaza, está em situação de deslocamento forçado e refúgio em uma estreita faixa ao redor de Rafah. Esse território é alvo de constantes bombardeios israelenses, sendo o objetivo declarado da próxima fase da ofensiva militar.
Foto de CHUTTERSNAP no Unsplash.
A ofensiva militar perpetrada por Israel contra Gaza desde outubro de 2023 reposicionou a “questão palestina” no centro do debate político global. Cerca de 32.000 civis, mais de 1% da população de 2,2 milhões de habitantes do território, foram mortos pelos bombardeios e ofensivas terrestres do exército israelense, com mulheres e crianças constituindo quase dois terços das vítimas. O número de feridos já ultrapassa 74.000[1]. No momento, cerca 1.9 milhões de pessoas, cerca de 85% da população de Gaza, está em situação de deslocamento forçado e refúgio em uma estreita faixa ao redor de Rafah. Esse território é alvo de constantes bombardeios israelenses, sendo o objetivo declarado da próxima fase da ofensiva militar.
Em 7 de outubro de 2023 combatentes do Hamas e de outros grupos armados palestinos[2] atravessaram a barreira fortificada que cercava Gaza, atacando cidades, kibutzim e um festival de música eletrônica próximos à fronteira. O ataque deixou 1139 mortos[3] e 253 reféns, civis e militares, foram levados para Gaza[4]. Além do tragicamente alto número de vítimas, foi a primeira vez, desde 1948, que grupos armados palestinos atacaram e controlaram, mesmo que temporariamente, porções significativas do território de Israel. A operação militar israelense subsequente foi apresentada como uma resposta ao ataque organizado e liderado pelo Hamas. Porém, desde seu início, a ofensiva militar israelense tinha como alvo não apenas a estrutura militar, institucional ou política do Hamas, mas o conjunto da população de Gaza.
A infraestrutura civil de Gaza também tem sido um alvo constante de bombardeiros indiscriminados e operações militares israelenses, os quais destruíram a grande maioria das residências, escolas, universidades, mesquitas, igrejas e hospitais do território. As condições básicas de sobrevivência foram afetadas, com cortes ou restrições severas ao acesso a eletricidade, combustível, água potável, medicamentos e comida. Embora Gaza seja o epicentro da violência contra a população palestina, o exército e os colonos israelenses realizam cotidianamente diversos ataques contra civis na Cisjordânia, provocando centenas de mortos[5].
Até mesmo instituições humanitárias da ONU, como a UNRWA, foram alvo de intensa campanha visando seu desmantelamento, o que em parte ocorreu, apesar de não haver evidências corroborando as acusações de Israel[6]. Os sucessivos deslocamentos da população, a amplitude da destruição, o colapso da ordem pública, o bloqueio da ajuda humanitária e ataques a pessoas em busca de comida por parte de Israel levaram a uma situação de fome generalizada, insalubridade, alta mortalidade e desnutrição infantil, ampliando a catástrofe humanitária para níveis impossíveis de serem revertidos em curto prazo e que terão efeitos duráveis na população.
Apesar de sua dimensão catastrófica, a Guerra contra Gaza se inscreve na longa história de ocupação colonial dos territórios palestinos por parte de Israel. Gaza e a Cisjordânia, foram conquistadas militarmente por Israel em 1967 e submetidas a um projeto de controle militar de suas populações e colonização judaica de seus territórios. A construção e expansão de assentamentos judaicos em território palestino foi tolerada e incentivada por sucessivos governos de Israel. Atualmente existem entre 600.000 e 700.000 colonos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental[7].
Gaza é o resultado dessa história, tendo sua composição demográfica sido completamente alterada pelo influxo de refugiados que fugiam dos ataques militares, massacres e expulsões que configuraram a “limpeza étnica” da Palestina durante o processo de criação de Israel em 1947-1948[8]. O território também foi alvo da construção de colônias judaicas após 1967. Os efeitos da ocupação israelense sempre foram sentidos de forma mais aguda no contexto de pobreza, desemprego e superpopulação presentes em Gaza. Não por acaso a primeira Intifada, a revolta civil contra a ocupação israelense, começou em 1987 no campo de refugiados de Jabaliya, no norte de Gaza, antes de se espalhar pelos territórios palestinos.
O Hamas[9] surgiu no mesmo ano, no contexto da repressão militar israelense à Intifada, quando o ramo da Irmandade Muçulmana em Gaza rompeu com a posição oficial da organização de recusa da luta armada e adotou um nacionalismo religioso palestino centrado na “libertação” de toda a Palestina histórica[10]. Os Acordos de Oslo entre Israel e a OLP, assinados em 1993, visavam a criação negociada de um Estado palestino nos territórios ocupados. Porém, os acordos não previam nenhum dispositivo que obrigasse Israel a cumprir com o que era acordado nas negociações e a Autoridade Nacional Palestina (ANP) foi criada sob ocupação israelense do território.
Essas contradições permitiram ao Hamas construir seu capital político, oferecendo à população serviços que a ANP não podia ou tinha condições de oferecer, como clínicas, escolas e coleta de lixo. Além disso, as ações armadas, que incluíam frequentes atentados suicidas contra alvos militares e civis israelenses eram apresentadas como retaliações à constante violência do exército e dos colonos israelenses contra os palestinos[11]. Em 2005 o governo israelense retirou os 8.500 colonos judeus de Gaza, devido ao alto custo econômico e militar de mantê-los, transferindo-os para a Cisjordânia, onde a colonização judaica se intensificou.
Em 2006 o Hamas transformou o capital político acumulado em uma vitória nas eleições legislativas palestinas. No entanto, pressões e sanções internacionais capitaneadas por Israel contra a participação do Hamas no governo levaram à paralisia do governo. Em 2007 as tensões sobre a repartição do poder entre a Fatah, partido político que controlava a ANP, e o Hamas escalaram para um confronto armado, com a Cisjordânia ficando sob controle da Fatah e Gaza sob o controle do Hamas. Desde então Israel impôs um bloqueio aéreo, terrestre e marítimo a Gaza, impedindo a saída de pessoas e limitando a entrada de bens, inclusive alimentos, no território[12]. Como resultado disso boa parte da população dependia de ajuda humanitária para viver antes da guerra[13]. Periodicamente, ataques de foguetes por parte do Hamas, geralmente “em resposta” a ações de Israel contra os palestinos, eram acompanhados de ataques militares israelenses. O maior desses confrontos foi o de 2014, quando 2.251 palestinos foram mortos pelos bombardeios israelenses[14]. A corrente guerra se inscreve nessa sucessão de confrontos armados anteriores.
O avanço da colonização israelense desde os Acordos de Oslo e a construção do “muro de separação” levaram à fragmentação espacial da Cisjordânia e ao confinamento da sua população em territórios exíguos. A intensificação da repressão nos territórios ocupados, a implementação de legislação discriminatória e a degradação dos direitos civis da população árabe palestina em Israel levaram a Human Rights Watch, em 2021, e a Amnesty International, em 2022, a publicarem documentos acusando Israel dos crimes de apartheid, opressão, discriminação e perseguição contra os palestinos[15].
Essa situação, embora amplamente conhecida e documentada, foi tolerada pela comunidade internacional por décadas. Diante da permissividade internacional, Israel investiu na invisibilização da ocupação e marginalização política dos palestinos. A ocupação e a violência dela resultante foram configuradas por Israel como um problema a ser gerenciado, oferecendo o horizonte de uma ilusória solução de “dois Estados”, inviabilizada pelas próprias ações israelenses. Os chamados “Acordos de Abraão” levaram ao estabelecimento, em 2020, de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, com apoio norte-americano. A possibilidade da Arábia Saudita assinar um acordo semelhante em 2023 consolidaria a marginalização dos palestinos na geopolítica do Oriente Médio, situação que foi revertida com os ataques de 7 de outubro e os eventos que os sucederam.
A Guerra contra Gaza recolocou a questão palestina no centro da política internacional, implodindo a ideia que ela poderia ser ignorada ou simplesmente gerenciada indefinidamente dentro do status quo da ocupação. A dimensão do conflito e sua importância simbólica fizeram com que praticamente todos os países tivessem que se posicionar a respeito. Essa mobilização internacional revelou, consolidou e aprofundou mudanças na configuração da geopolítica internacional.
Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido declararam apoio total às ações militares de Israel, evocando o “direito à defesa” deste, ignorando completamente o contexto da ocupação e do bloqueio a Gaza e abandonando toda deferência ao direito internacional. Os Estados Unidos enviaram quantidades massivas de armas a Israel e, juntamente com o Reino Unido, vetaram sucessivas propostas de cessar fogo apresentadas ao Conselho de Segurança da ONU. Alemanha, Áustria e França proibiram manifestações pró-Palestina e trataram a solidariedade de suas populações de origem árabe e/ou muçulmana com os palestinos como manifestações de antissemitismo.
Em todos esses países o apoio dos governos à ofensiva militar israelense se deu apesar de protestos que expressavam a oposição de parte significativa da população a essa posição. Em paralelo a isso, a memória do holocausto e o perigo do antissemitismo foram instrumentalizados pelo governo de Israel para deslegitimar e silenciar críticas às suas ações. Membros do governo israelense emitiam comunicados com claro teor genocida, dando intenção aniquiladora aos incessantes atos de violência e desumanizando suas vítimas, declarando que os palestinos eram “animais humanos” e que o objetivo da ofensiva militar seria “eliminar Gaza da face da terra”[16].
Diante desse quadro, outro bloco de países se configurou com posições críticas à brutalidade do ataque militar israelense e ao número excessivamente elevado de vítimas civis. Alguns desses países, como a Rússia e a China, já eram atores tradicionais da cena internacional e viram no conflito uma chance de avançar seus interesses ao confrontarem a duplicidade dos países ocidentais, que instrumentalizam ou ignoram as leis internacionais segundo seus interesses, colocando-se como improváveis defensores da legislação humanitária internacional na ONU.
Por outro lado, diferentes países emergiram como representantes do chamado “Sul Global”, buscando afirmar-se como atores relevantes em um universo geopolítico em recomposição. A posição do Brasil, com críticas contundentes a Israel, refletiu o descontentamento desses países com a impunidade de décadas de violações dos diretos dos palestinos e da legislação internacional por parte do Estado israelense. Alguns países passaram do discurso à ação: a Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel; Colômbia e Chile suspenderam acordos e retiraram seus embaixadores. A África do Sul foi mais além, usando seu capital político como antiga vítima do apartheid para acusar Israel do crime de genocídio junto à Corte Internacional de Justica[17], em Haia.
Esses “blocos” que se configuraram em relação à guerra não são de forma alguma homogêneos, pois a história e as questões internas de cada país informam seu posicionamento. Assim, a Índia adotou uma posição favorável a Israel, pois o atual governo composto por nacionalistas hindus vê os muçulmanos, tanto na própria Índia, quanto no Oriente Médio, com hostilidade. Por outro lado, Irlanda, Bélgica, Vaticano, Espanha e Portugal adotaram posições críticas a Israel e contrárias à suspensão da ajuda aos palestinos por parte da União Europeia. A guerra contra Gaza desencadeou recomposições geopolíticas, gerando novas alianças, divisões e centros de poder nas arenas internacionais.
Diante desse contexto, a antropologia, como disciplina comprometida com valores éticos de respeito aos direitos e à dignidade de todos os grupos humanos, não poderia ficar indiferente. Efetivamente, todas as principais organizações profissionais da disciplina se pronunciaram a respeito da catástrofe humanitária em Gaza. Porém, é interessante notar que a “geografia da solidariedade” tendeu a inverter-se em relação ao campo político, com posições firmes de condenação das ações de Israel por parte de antropologias “centrais” e declarações cautelosas vindas do “Sul Global”.
Em outubro de 2023 a American Anthropological Association (AAA) lançou uma nota na qual ela se solidarizava com as vítimas do ataque de 7 de outubro ao mesmo tempo que chamava atenção para o contexto da ocupação israelense e das décadas de “violência estrutural e cotidiana imposta pelo governo israelense `a população palestina”[18]. A nota também condenava as medidas punitivas contra a população civil e o clima de intimidação nas universidades norte-americanas. A AAA já havia aderido ao BDS (Boicot Divestment, Sanctions), movimento de boicote a instituições israelenses visando o fim da ocupação e da opressão dos palestinos, em julho de 2023[19], após uma equipe de antropólogos ter produzido um documento detalhando a participação das universidades israelenses na ocupação, repressão e marginalização dos palestinos[20]
Também em outubro a European Association of Social Anthropologists (EASA) emitiu uma nota ainda mais contundente, condenando “a violência perpetrada pelo Estado de Israel contra os civis de Gaza”, assim como “a representação genocida dos palestinos como culpados, ‘animais humanos’ e merecedores de punição coletiva”[21]. O comunicado ainda critica o apoio da União Europeia e de governos europeus à ofensiva israelense em violação das leis internacionais e condena a perseguição e intimidação de professores e alunos que expressaram sua solidariedade com os palestinos[22]. Desde 2018, a EASA havia decido o boicote de instituições acadêmicas israelenses localizadas nos territórios ocupados[23].
Em contraste com a rápida resposta da AAA e da EASA à catástrofe humanitária de Gaza, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), permaneceu em silêncio sobre o assunto por bastante tempo. Embora uma nota tenha sido emitida condenando a tentativa de criminalização de pesquisadores que haviam se pronunciado em solidariedade aos palestinos[24], nenhum comunicado foi feito sobre a guerra. Em novembro de 2023, tanto o Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense, quanto um grupo de antropólogos brasileiros pesquisadores da Palestina/palestinos, Oriente Médio e Norte da África emitiram notas condenando as ações militares e o massacre de civis em Gaza, assim como o apartheid e a ocupação israelense nos territórios palestinos[25].
Diante desses pronunciamentos e das demandas de um posicionamento, a ABA organizou em dezembro de 2023 o webinário A antropologia face ao conflito Israel X Palestina[26], visando a construção de uma posição da ABA diante do que foi definido como o “dissenso” de seus membros sobre o assunto. Os participantes do webinário, antropólogos com pesquisa na região, ressaltaram a violência sem limites contra civis em Gaza e, em menor escala, na Cisjordânia e a amplitude da destruição. Eles também apontaram as causas do conflito na ocupação, colonização e regime de apartheid que governam a vida dos palestinos.
A nota emitida pela ABA pouco após o webinário surpreendentemente não incorporou praticamente nenhuma das questões apontadas pelos expositores[27]. O título da nota não fez nenhuma referência direta a Gaza e o texto ignorou totalmente o contexto da ocupação israelense e o desequilíbrio de forças no conflito. O ataque do Hamas em 7 de outubro foi apresentado como como o início de uma “escalada bélica” que levou à “morte de milhares de civis palestinos vulneráveis, incluindo um grande número de crianças”. A nota termina com a demanda de medidas humanitárias na área de conflito e um cessar fogo imediato, além de um vago “fim da violência”, sem referência às suas causas estruturais, ou seja, o apartheid e a ocupação israelense dos territórios palestinos.
A guerra contra Gaza provocou uma reconfiguração das arenas globais, incitando posicionamentos e moldando circuitos de solidariedade da geopolítica à antropologia. Tragicamente esses movimentos não limitaram ou impediram a violência genocida que se abate sem cessar sobre os palestinos e que deixará efeitos duradouros nas gerações futuras. Embora não exista ainda nenhum horizonte para o término dessa catástrofe humanitária, ela certamente marca o fim do processo de “normalização” da questão palestina como um problema sem consequências na ordem internacional.
Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto (Departamento de Antropologia, Núcleo de Estudos do Oriente Médio (NEOM), Universidade Federal Fluminense).
Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto é Professor do Departamento de Antropologia, Coordenador do Núcleo de Estudos do Oriente Médio (NEOM), Universidade Federal Fluminense.
https://etnografica.cria.org.pt/pt/agora/203






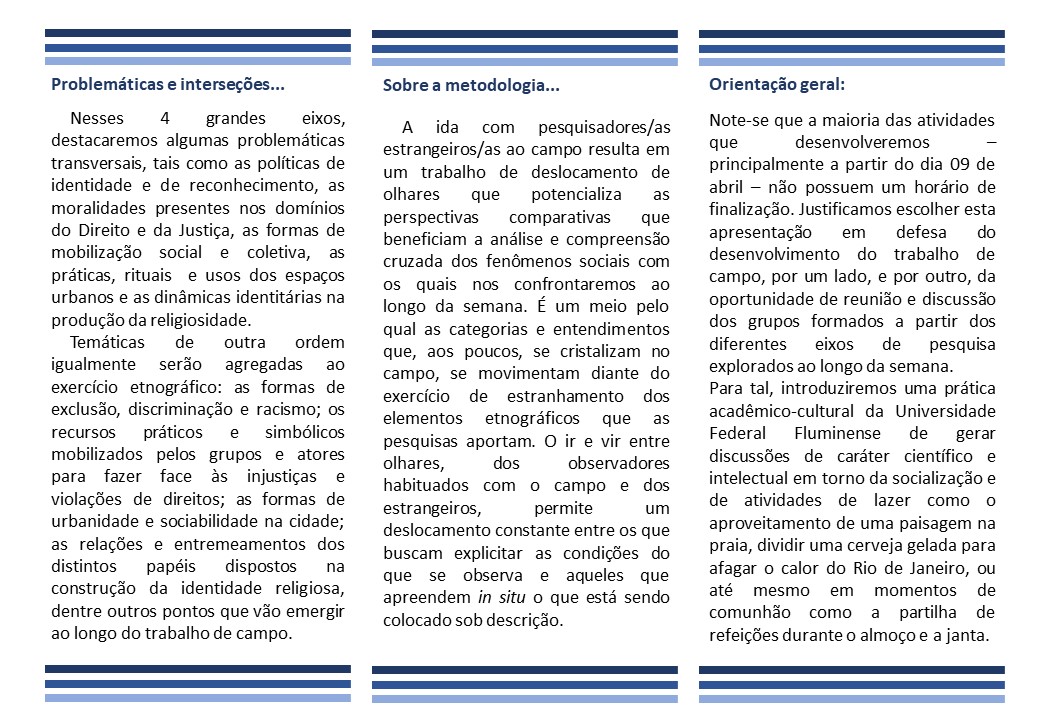
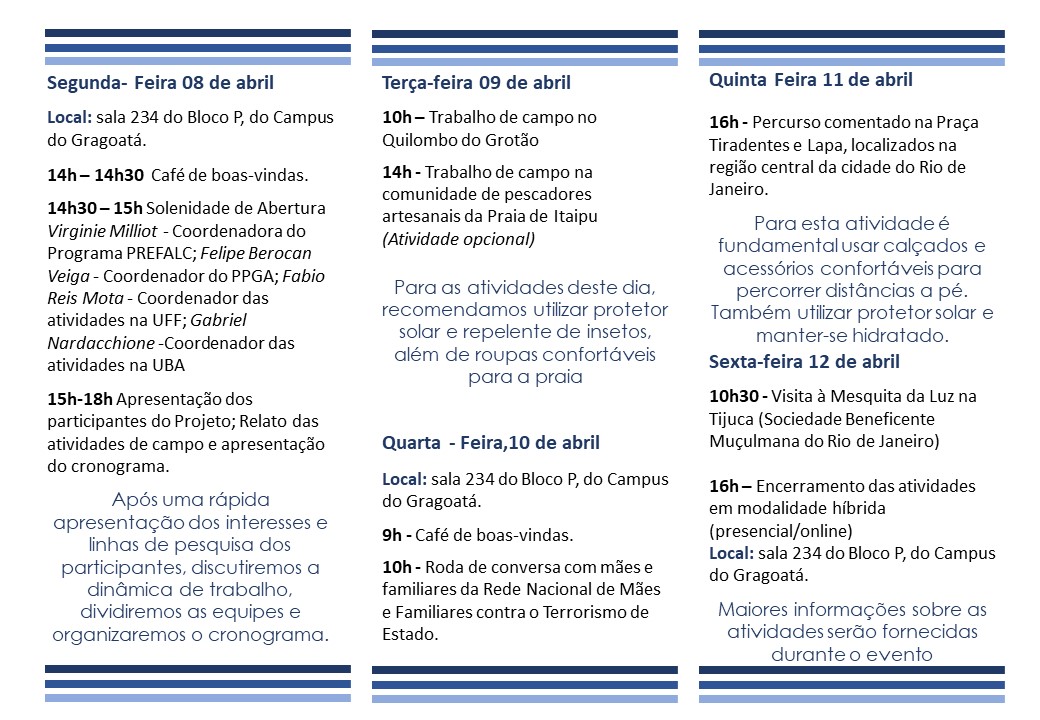



 A Universidade Federal Fluminense (UFF) dá início ao calendário acadêmico de 2024 do Programa de Pós-graduação em Justiça e Segurança com uma aula inaugural imperdível. Marcada para 27 de março às 14 horas, no auditório do IAC-UFF (sala 10), a sessão intitulada "Políticas do Trabalho Policial: Variações e Complexidades no Brasil" será ministrada pela renomada Drª Susana Durão, professora da UNICAMP e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. A aula explorará a dinâmica do trabalho policial e suas implicações socioculturais no contexto brasileiro. Os professores Lenin Pires, vinculado ao InEAC-UFF, e José Colaço, do PPGJS-UFF, mediarão o evento, garantindo uma discussão rica e profunda sobre temas atuais de segurança e policiamento. A expertise de Susana Durão inclui liderança em projetos que mergulham em questões de antropologia do trabalho, cidades e violência, policiamentos, segurança pública e privada, além de desigualdade, gênero e racismo, temas essenciais para compreender a complexidade das políticas de segurança no Brasil.
A Universidade Federal Fluminense (UFF) dá início ao calendário acadêmico de 2024 do Programa de Pós-graduação em Justiça e Segurança com uma aula inaugural imperdível. Marcada para 27 de março às 14 horas, no auditório do IAC-UFF (sala 10), a sessão intitulada "Políticas do Trabalho Policial: Variações e Complexidades no Brasil" será ministrada pela renomada Drª Susana Durão, professora da UNICAMP e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. A aula explorará a dinâmica do trabalho policial e suas implicações socioculturais no contexto brasileiro. Os professores Lenin Pires, vinculado ao InEAC-UFF, e José Colaço, do PPGJS-UFF, mediarão o evento, garantindo uma discussão rica e profunda sobre temas atuais de segurança e policiamento. A expertise de Susana Durão inclui liderança em projetos que mergulham em questões de antropologia do trabalho, cidades e violência, policiamentos, segurança pública e privada, além de desigualdade, gênero e racismo, temas essenciais para compreender a complexidade das políticas de segurança no Brasil.











